Não devemos banalizar o cuidado
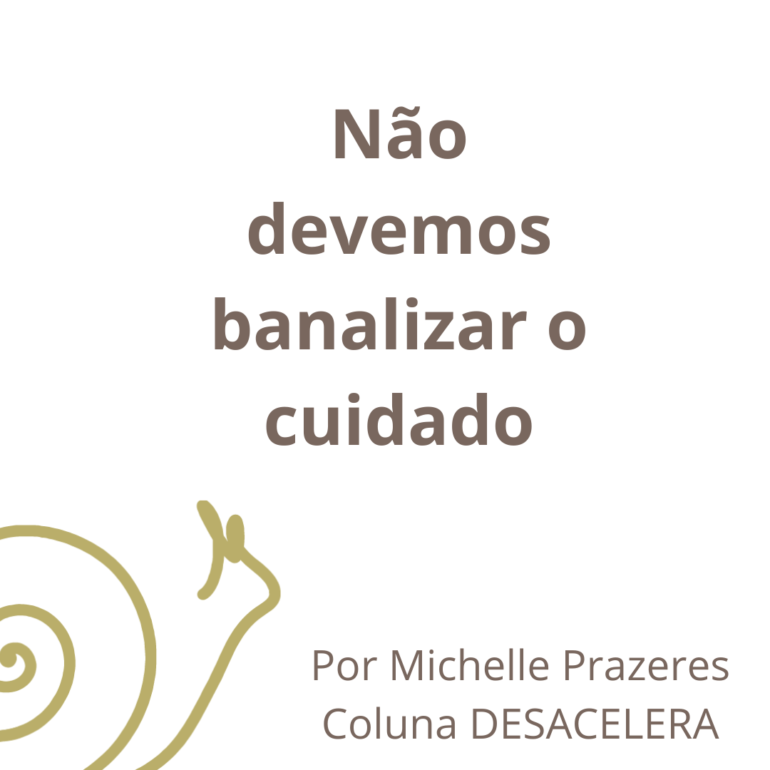
por Michelle Prazeres
Para mim, o principal gesto (a ideia, o termo e tudo que ele significa) que emerge deste período de pandemia e isolamento social é o cuidado.
Lamento muito quando vejo pessoas usando a expressão “com todos os cuidados” para justificar escolhas que desconsideram o momento que estamos vivendo, as vidas perdidas e os riscos que ainda estão em jogo em uma atabalhoada “volta à vida normal” (como se isso fosse possível, urgente e necessário).
O cuidar que para mim aconteceu como noção e prática fundamental deste período tem múltiplos significados e vai além da cautela, da consciência, da atenção, da circunspeção, da ponderação, da precaução, da prudência e do tento, que aparecem como sinônimos para ele nos dicionários.
O primeiro – e talvez mais evidente – olhar para o cuidado traduz aquele cuidado com o Outro e com o coletivo a que nós fomos apresentados quando foram anunciadas as medidas de isolamento social. Ficar em casa é uma atitude de cuidado conosco e com as pessoas importantes para nós; mas também (e talvez sobretudo) é uma atitude de cuidado com todos(as) que habitam e circulam nos mesmos espaços que nós.
Ganhou visibilidade o cuidado com as crianças e idosos. Emergiu o assunto da parentalidade e as questões que enfrentamos quando somos pais e mães trabalhadoras ou cuidadores e cuidadoras de pessoas mais velhas, agora com eles(as) todo tempo em casa, conciliando trabalho, tarefas domésticas e este cuidado. Ficaram evidentes as diferentes condições deste cuidado em função das desigualdades que marcam nosso país. Ficou explícito o papel de cuidado que as escolas têm com as crianças.
Junto com esta percepção, despontou deste momento uma abordagem econômica e de gênero do cuidar como trabalho invisível, revelado por este importante relatório da organização OXFAM (https://www.oxfam.org.br/blog/trabalho-de-cuidado-uma-questao-tambem-economica/). O documento “Tempo de cuidar: o trabalho de cuidado não remunerado e mal pago e a crise global da desigualdade” mostra que mulheres e meninas ao redor do mundo dedicam 12,5 bilhões de horas, todos os dias, ao trabalho de cuidado não remunerado – uma contribuição de pelo menos US$ 10,8 trilhões por ano à economia global. Isso dá mais de três vezes o valor da indústria de tecnologia do mundo.
Outra “vertente” de cuidado que se manifestou neste período foi aquele que para mim se apresenta enquanto polaridade do controle.
Aprendemos que vamos precisar fazer planos de curto prazo. Que os planos nos preparam para o que vai acontecer, mas que nem sempre asseguram o que vai acontecer (e às vezes, quase sempre, é preciso improvisar). Aprendemos que não conseguimos controlar nada. E que – quando se trata de vida – a melhor atitude talvez seja planejar o possível, observar o que acontece e cuidar do que se apresenta. O controle se esvaiu pelos ares como uma grade fantasia coletiva (pretendo falar mais disso em um outro texto em breve).
Aflorou também aquele cuidado necessário que as empresas precisaram (ou precisariam) ter com seus funcionários. Ganharam relevo as políticas das corporações relacionadas às pessoas que as compõem e as fazem acontecer no cotidiano. Ficaram explícitas também as diferenças entre as empresas que realmente cuidam de colaboradores(as) com consistência e coerência e aquelas que de alguma forma “pegaram carona” na valorização do bem-estar e da qualidade de vida corporativa e que – de fato – não oferecem qualquer cuidado a seus funcionários(as).
Empresas que demitiram ou que defenderam o retorno das atividades presenciais sem cuidar das pessoas, empresas que não trataram de forma diferenciada funcionários(as) expostos a condições diferentes diante da pandemia e tantos outros descuidos, que revelaram ou escancararam algo que já sabemos, mas que na “normose” da vida não acusamos com a ênfase necessária. Não só agora, mas sempre, são poucas as empresas que tratam as pessoas e os processos de maneira que se justifique a forma como se narram e que apresentam o cuidado como um valor. Por isso – e para mim –, veio à tona deste momento a necessidade e a urgência de desenvolvermos nas empresas o que – na nossa Escola do Tempo (http://www.desacelerasp.com.br/escola-do-tempo/) – chamamos de “culturas de cuidado”.
Por fim, para mim, ganhou nova roupa a noção de autocuidado. Pregado como necessidade neste período, passei a entender o autocuidado como uma atitude que aponta que talvez o melhor caminho seja (sempre. Não apenas agora) estar atento(a) a si. Respirar. Planejar e celebrar o essencial e o possível de cada dia, para evitar o esgotamento e a frustração. Como uma postura de consciência em movimento. Para permitir, perceber e observar o que acontece e ir tomando cada decisão quando ela se apresentar. Passei a compreender o autocuidado como condição para quem quer aprender algo disso tudo que estamos vivendo.
Estes dias, entrevistando uma pessoa que admiro muito, ouvi que devemos escolher as palavras como escolhemos flores em um jardim. Porque as palavras carregam sentidos e são estes sentidos que devem nos mover, quando somos humanos.
Acontece que – acelerados e com a pressa internalizada como lógica automática da vida – perdemos a nossa humanidade. Perdemos os nossos sentidos.
Quando escolhemos a palavra “cuidado” para expressar uma ideia errada ou distorcida de cuidar, que nada tem a ver com o cuidado como coisa humana, estamos perdendo junto um pouco da nossa humanidade. Estamos matando esta palavra-flor no jardim dos significados.



